| A preservação do papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e outros psitacídeos na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazendo Morrinhos e arredores.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Morrinhos está localizada no nordeste da Bahia. Região do semi-árido, distante aproximadamente 308 km de Salvador e a mais ou menos 30 km da cidade de Queimadas – BA. Geograficamente suas terras estão nas áreas dos municípios de Queimadas e Santa Luz. Anteriormente, Refúgio Particular de Animais Nativos (Portaria IBDF nº 247-P de 04/06/84) depois reserva através da Portaria IBAMA nº 644/90 de 03/05/1990. Situada numa região composta de grandes e pequenas propriedades, onde a exploração predominante é a pecuária e para os minifúndios é feita a cultura de subsistência (mandioca, milho e feijão), quando o tempo permite, e também a extração da fibra do sisal que, por razões de constantes estiagens está muito comprometida. Para a população nativa é duro viver da terra. As chuvas não são certas e tudo que se produz depende única e exclusivamente do tempo. O índice pluviométrico é de 600 mm/ano, quando acontece, porque há anos em que não passa de 150 mm/ano. É duro viver no semi-árido! A vida é feita de incertezas. Por falta de ações governamentais, ou seja, uma política de geração de trabalho, a migração é intensa. São levas de famílias à procura do sustento no sul-maravilha, o que no fundo não passa de um grande engano; ou então o estado de Goiás e o oeste da Bahia, onde se diz existir trabalho. Quem ainda teimar ficar é para penar. No momento, a saída encontrada para essa gente está sendo a extração de carvão vegetal, provocando o desmatamento desmedido, como também a péssimas condições de trabalho (alto nível de insalubridade) provocadas essa atividade. O tempo judia muito do caatingueiro. Preservar o ecossistema do semi-árido dentro da realidade sócio-econômica descrita é por demais trabalhoso. Por mais que se faça para evitar a caça, a pesca e captura de aves e animais, o nativo não resiste à necessidade da fome. Mas, mesmo enfrentando todas as dificuldades, durante estes 11 anos foi feito muito na Fazenda Morrinhos. Com a ajuda direta da Superintendência do IBAMA na Bahia, paulatinamente foram reintroduzidas espécies extintas lá, a exemplo da ema (Rhea americana), perdiz (Rhynchotus rufescens), zabelê (Cypturellus noctivagus zabele), cágado (Geochelane carbonaria), caititui (Tayassu tajucu), jacus (Penelope superciliares), aracuã (Ortalis guttata), etc. A avifauna do semi-árido é muito rica. Podemos destacar na região da reserva os psitacídeos: papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) periquito-guerre-guerre (Aratinga cactorum) e periquito-cuiubinha (Forpus xanthopterygius). São aves interessantes pela sua expressão de alegria como também pela predominância de plumagem verde que, nas épocas das chuvas, se confunde com a explosão exuberante da vegetação caatingueira. O trabalho conservacionista destas espécies tornou-se um imperativo pela razão de que, ano a ano, o número de exemplares na natureza vem sempre diminuindo, em que pese todo um trabalho de educação e conscientização da população. Há anos vem sendo feito um rastreamento com acompanhamento dos ninhos e uma sistemática fiscalização para que nem os filhotes e nem os pais fossem capturados. Todas as tentativas foram frustadas. As crias foram capturadas e, em alguns casos, até os pais, vez que foram encontrados ninhos com ovos abandonados já gerados. Os ninhos só são abandonados no caso de uma forte agressão. Após tentativas de preservar as espécies nos seus próprios ninhos, o que não resultou em sucesso, foi adotado um novo procedimento, o que será relatado com base em anos de observação “in loco” e pesquisas. Os processos de nidificação do papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e do periquito-guerre-guere (Aratinga cactorum) dão-se entre os meses de dezembro e janeiro, havendo, contudo, particularidades em caso do caso. Já o periquito-cuiubinha (Forpus xanthopterigius) entre os meses de março e abril. Os periquitos-guerre-guerre escolhem, como local de postura, cupinzeiros abandonados e constróem seus ninhos num processo que consiste na escavação de baixo para cima até alcançar a parte superior, onde alargam até obter espaço adequado para postura e incubação. Este sentido de escavação tem por finalidade proteger sua prole de eventuais chuvas, como também é uma forma de proteção contra predadores. Como ninho pronto, soltam penas, deduzindo-se com isto que a parte da região inferior da ave fique mais livre para expelir umidade tão importante na alimentação dos filhotes ainda dentro do ovo, como também para o nascimento, vez que é necessário que a casca do ovo esteja dentro de uma consistência que o filhote possa romper. As A.cactorum põem em média 5 ovos e a eclosão alcança até 100%. A incubação dura mais ou menos 23 dias e os filhotes voam entre 30 a 45 dias. Nascem com olhos fechados e com uma penugem; com o tempo nascem as verdadeiras penas. Um dado curioso no processo de reprodução foi observado quando chega o tempo dos filhotes voarem. Como o local da postura fica na parte superior do cupinzeiro, os filhotes para alcançarem o mundo, não saem pelo corredor que vai até a parte inferior, e sim esperam os pais fazerem uma abertura na parte superior. Dos psitacídeos citados, é o único exemplar que de fato constrói seu ninho. Os papagaios-verdadeiros (Amazona aestivas) escolhem, como local de postura, ocos em grandes árvores como aroeiras, pau-d’arco (Tecoma heptaphylla), baraúnas (Schinopsis brasiliensis), barrigudas (Cavanillesia arbórea) etc. Começam a freqüentar o ninho, fazendo inicialmente uma limpeza. O ninho fica a uma profundidade de acordo com o tamanho do oco, chegando a ser observado ninho com 2 metros. Como as A.cactorum, antes da postura soltam penas, para processar a incubação. Põem em média 3 ovos e escolhem todo o ano sempre o mesmo local para a postura, sendo a incubação feita tanto pelo macho quanto pela fêmea e a eclosão dando-se com 24 dias, voando os filhotes com mais ou menos 45 dias. Foi observado casos de uma segunda postura, quando a primeira sofria algum tipo de agressão. Não chegam a escolher árvores só dentro da caatinga, mas também nas pastagens abertas. Usam, para seus ninhos, tanto árvores vivas como também ocos de árvores mortas. Foi observado sempre o nascimento de 2 filhotes, em que pese terem sidos encontrados ninhos com 3 ovos. Nascem com olhos fechados e penugem. São carentes de assistência dos pais até voarem. Foi observado que, mesmo após estarem voando, ainda acompanham os pais por algum tempo. Segundo os nativos, os filhotes sempre voam na quaresma. Trata-se de uma crendice, vez que há casos em que a postura se dá em abril e os filhotes voam no mês de junho. A exemplo do papagaio-verdadeiro o periquito-cuiubinha também não faz ninho Usa ocos abandonados e faz sua postura todo ano no mesmo lugar. Tem o mesmo costume do A. aestive para a postura. Limpam o ninho e soltam penas. A postura consta de uma média de 5 ovos e a eclosão se dá com 21 dias, nascendo com os olhos fechados e penugem. Voam com mais ou menos 30 dias. A incubação é feita tanto pelo macho como pela fêmea. Estas aves são monógamas, acasaladas, só o tempo as separa. Alimentam-se dos frutos do imbuzeiro (Spendias tuberosa), da umburana (Bursera leptophleos), do ouricorizeiro (Cocos coronata), do mandacaru-de-boi (Cereus jamacaru), flores de pendões da flecha do sisal (Agave sisalana) e do cipó-de-leite (Oxypetalium spp). O procedimento para a preservação destas espécies constitui neste trabalho de acompanhamento e, como não foi possível conservá-los nos ninhos até voarem, adoto-se o método de retirar os filhotes dos seus ninhos para serem criados em casa até alcançarem a liberdade. Isto de fato foi um sucesso. São aves fáceis de serem criadas. Alimentam-se com papa à base de milho, ainda morna para ter a mesma temperatura com que são alimentados pelos verdadeiros pais.São acondicionados em cabaças com folhagem para suprir a carência de calor, necessário quando ainda jovens. A alimentação é dada 2 vezes ao dia (não se observando necessidade maior). Neste ano de 95, foram conseguidos 10 exemplares do A. aestiva e 3 A. cactorum. Estas aves sofrem um processo de marcação que consiste num fecho tipo presilha numerada na asa direita e anilhas com numeração/ano, a marca J1 e telefone da cidade de Feira de Santana-BA. No momento, algumas destas aves já alcançaram a liberdade, fazendo com que o semi-árido fique mais alegre e cheio de vida. A Fauna e a flora do semi-árido de uma riqueza sem fim. A caatinga nordestina contém uma pureza e beleza que só quem a vive, sente. É necessário toda a sociedade ter este direito. Para o sucesso deste trabalho é de se agradecer à Divisão Técnica/Setor de Vida Silvestre da Superintendência do IBAMA na Bahia. Agradecimentos a Evaldo Oliveira da Silva e Eliane Lopes da Silva (Fazenda Morrinhos), Osvaldo Silva de Almeida, Divandira da Silva Araújo e Barnabé Alves de Araújo (Fazenda Soledade), pessoas que muito fizeram pelas suas consciências, zelo e vontade. Por fim, agradecimento à minha mulher Verbena Pereira pela sua paciência e verdadeira compreensão. A meus filhos, Bartira, Juliana e José Emiliano. |
Month: February 2022
Artigo5
| REINTRODUÇÃO DO JABUTI NA FAZENDA MORRINHOS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS.
A família Testudinidae compreende o gênero Geochelone que é subdividida em duas espécies de nosso interesse: G. denticulata – Jabutitinga e G. carbonaria – Jabuti piranga; espécie com área de distribuição nas regiões sudeste, nordeste e centro-oeste. Habitam florestas densas e úmidas, ocorrendo também em locais mais abertos na Região Nordeste (Caatinga) e Centro-oeste (cerrado). É bastante conhecido no Nordeste como cágado. Nos últimos 20 anos na região da Caatinga teve início acentuado desmatamento com vista à implantação da pecuária, paralelo aos períodos constantes de estiagem prolongadas, com conseqüente falta de alimento à população rural e o hábito da caça, que aproveitava a carne do jabuti como prato tradicional na região; além da utilização do seu óleo para fabricação de produtos dermatológicos caseiros, levaram por completo a extinção dessa espécie praticamente em todo o Nordeste, principalmente no município de Queimadas. Em 1981 o professor Guido Rummler pesquisador do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA, já se preocupava com a extinção do Geochelone carbonaria – jabuti na região de Queimadas e realizava pesquisas de laboratório desenvolvendo experiência de reprodução da espécie em cativeiro. Diante dos fatos expostos acima e pela quantidade de animais com entrada no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, oriundos de apreensões pela equipe de fiscalização do DAS do Ibama, Policia Ambiental do Estado e por doações de particulares, decidimos realizar um trabalho piloto de reintrodução do jabuti na região de Queimadas. O jabuti é uma espécie rústica, resistente, desde que tenha suas exigências ecológicas cumpridas. Não dispõe de mecanismo de termorregulação (a sua temperatura corporal varia de acordo com as condições do clima). Como espécie terrestre (apesar de nadar bem), existe o dimorfismo bem evidenciado, com uma concavidade do plastrão dos machos adultos, que é utilizado como um “encaixe”, no momento da cópula. Nos machos jovens a concavidade no plastrão não é perceptível, para podermos identificar o sexo nesses indivíduos, devemos observar o tamanho da cauda nos exemplares a serem sexuados. Os machos, desde jovens (em torno de 1 ano), a cauda é bem maior que na fêmea, pois o pênis dos quelôneos, desliza sob uma discreta fenda, na fase interior da extremidade da cauda. A abertura do plastrão do macho, por onde sai a cauda é mais estreita do que nas fêmeas. A cauda da fêmea é menor e mais rombuda do que no macho, pois possui uma abertura do plastrão para saída da cauda, muito mais larga que no macho, visando facilitar as fêmeas no ato da postura. Em cativeiro cada fêmea desova em média três ou quatro vezes ao ano (há uma variação de até oito posturas por fêmea), principalmente uma maior incidência durante o Verão. Podemos observar acasalamentos e posturas durante praticamente todo o ano. A base de uma alimentação de frutas, legumes, proteína animal (ração, carne moída crua, peixe cru e ovo cozido) é fundamental para que os jabutis tenham um crescimento normal (cativeiro). Na natureza se alimentam de gramíneas, forrageiras e alguns insetos. A fase adulta ocorre por volta dos 10 anos de idade, levando em consideração que há uma pequena variação entre macho e a fêmea. A maturidade sexual do macho ocorre um pouco mais cedo, entre 8 a 10 anos; e na fêmea entre os 10 e 12 anos. O presente trabalho consiste inicialmente em etapas de avaliação dos jabutis dentro do Centro de Triagem – Cetas, como: quantificação, identificação dos sexos, exame clínico e laboratorial (fezes), medição (largura e comprimento), peso. Cada animal dispõe de uma ficha individual constando seus dados; na segunda etapa avaliamos o tipo de alimentação aceita e consumida, movimentação e comportamento agonístico; na terceira etapa que é da pré-reintrodução, separamos os grupos por idade, tamanho e peso, realizamos a marcação dos animais, através de furos nas escamas marginais e pintura a óleo na parte superior da carapaça (tinta brilhante) e por último uma semana antes da soltura realizamos uma vermifugação em todo o plantel; de por ultimo a reintrodução ou soltura dos grupos já definidos nas áreas pré-selecionadas, que foram duas. As áreas escolhidas foram selecionadas por critérios de vegetação mais densa, dimensão e disponibilidade de água. Foram realizadas prelinarmente no período entre 11.08 a 08.12.90, soltura de um grupo de jabutis nessa fazenda com vista a conhecermos um pouco o comportamento dessa espécie nessa região. Os animais soltos não sofreram maiores critérios quando a sua seleção, apenas foram separados em grupos, identificados os sexos e marcados individualmente com tinta óleo branca na parte superior da carapaça, com vista a melhor visualização em campo. Essa fase serviu para avaliarmos a movimentação dos animais na própria região de soltura, foram observados num período após 4 meses que os animais se movimentam para locais distintos, num raio de aproximadamente 2kmdo ponto de soltura. A segunda soltura foi realizada em 21.12.1991, onde foram soltos nove exemplares entre machos e fêmeas na área numero I. Todos estes animais passaram por todas as fases de avaliação para a soltura final. Paralelo à realização prática deste trabalho, estamos realizando juntamente com o proprietário da Fazenda Morrinhos, uma conscientização aos empregados da fazenda e de fazendas vizinhas, com vista a mostrarmos a importância da preservação desta espécie na região da caatinga. Acreditamos que, com a ajuda das pessoas que moram e vivem exclusivamente dos recursos naturais da região, possam, a longo prazo, reverter esta situação atual em que se encontra o nosso jabuti. Jornal A Tarde – Caderno Rural |
Artigo2
ECOLOGISTA FAZ O REPOVOAMENTO DE PAPAGAIOS E PERIQUITOS NA CAATINGA.
O arquiteto e fazendeiro José Juraci Pereira não é filiado ao Greenpeace, a ONG mundialmente famosa pelas táticas de guerrilha com que defende o meio ambiente, não freqüenta passeatas pelo verde, e não abraça lagoas e nem é filiado ao Partido Verde. Mesmo não sendo ambientalista de carteirinha, nem por isso deixa de ser um ecologista militante, capaz de esperar 10 anos para ver o sucesso de uma experiência, como a que está obtendo agora com o repovoamento de papagaios e periquitos na região das Queimadas e Santaluz, no semi-árido baiano, onde fica a sua fazenda Morrinhos, de 718 hectares, pioneiramente transformada em reserva particular do patrimônio natural pelo Ibama.
Ex-empreiteiro da construção civil, atividade na qual confirmou a tese darwinista segundo a qual só as raposas felpudas sobrevivem na fauna das concorrências e licitações, José Juraci Pereira acabou se transformando num ecologista persistente, que tem a singular característica de combinar atividade econômica (criação de gado) com manejo ecológico, tudo isso num só lugar. Um lugar, aliás, que não desperta o menor interesse de ambientalistas xiitas, já que ali não a rios serpenteando a paisagem, não há a exuberância de florestas e pântanos e durante quase todo o ano o que menos se vê é verde.
Nesse ambiente dominado pela aridez da paisagem na maior parte do ano, a caça predatória e um hábito arraigado entre caatingueiros , que a transformam num misto de esporte e sobrevivência . Vivendo num ambiente castigado por inclementes estiagens, o sertanejo pobre quase sempre encara animais silvestres como fonte de proteínas e não vê nenhum sentido estético na leveza de um vôo de beija-flor na algaravia da passarada despertando a manhã. Desde cedo, os meninos nos sertanejos são iniciados na arte de caçar e os seus primeiros troféus são passarinhos abatidos de badogue. Caçadores mais implacáveis são capazes de perder noites espreitando o tatu enfurnado no buraco; e veados, caititus, gados-do-mato não escapam da sanha de cães e chumbo.
É nesse cenário cruel e cinzento do sertão que José Juraci vai colhendo pequenas vitórias na sua batalha pela reconstituição do que já foi a caatinga. O papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e os periquitos – guerre-guerre (Aratinga cactorum) e cuiubinha (Forpus xanthopterygius) são aves que estavam deixando de enfeitar a paisagem do semi-árido, principalmente porque são muito apreciadas por caçadores que as vendem nas feiras livres e nas beiras de estradas. Aves interessantes pela sua expressão de alegria, pela beleza da plumagem que se confunde com a explosão exuberante da vegetação caatingueira nos períodos chuvosos, os papagaios e periquitos são capturados ainda filhotes. Apanhados nessa fase, se adaptam facilmente a ambientes domésticos e, no caso dos papagaios, são ainda mais cobiçados porque tem a característica incomum de reproduzir as palavras e sons humanos – gritam, assobiam, cantam e falam. Um filhote de papagaio pode custar até R$50,00.
O trabalho de repovoamento dessas espécies começou há uma década, mas a tática utilizada pelo fazendeiro revelou-se frustrante. Primeiro, ele e os poucos nativos convertidos em ecologistas passaram a fazer um rastreamento e acompanhamento dos ninhos, promovendo uma sistemática fiscalização para que os ovos, filhotes ou pais não fossem capturados. Assim, os ovos poderiam eclodir e os filhotes ganhariam o mundo, naturalmente. No entanto, ao menor vacilo, as crias eram apanhadas nos ninhos e até os pais eram capturados. “Por mais que se faça para evitar a caça, a pesca e a captura de aves e animais, o nativo não resiste á necessidade da fome”, explica.
Quando percebeu que o método utilizado só seria viável se fosse possível botar guarda 24 horas por dia em cada oco, em cada árvore ou cupinzeiro onde papagaios e periquitos costumam fazer seus ninhos, Juraci mudou de estratégia. Passou então a fazer o acompanhamento dos ninhos, mas assim que os filhotes nascem são recolhidos e levados para a sede da fazenda e criados até a idade em que já podem alçar vôos.
Em casa, os filhotes de papagaio e periquitos são tratados como se estivessem no seu próprio habitat. Ou seja: são acondicionados em cabaças com folhagem (para suprir a carência de calor) e alimentos duas vezes ao dia à base de papa de milho ainda morna (para reproduzir a mesma temperatura com que recebem os alimentos dos pais).
O novo método está sendo considerado um sucesso, principalmente porque entre os filhotes recolhidos até agora não houve ocorrência de morte. Este ano, o primeiro da nova experiência, ele conseguiu 10 exemplares de periquitos-guerre-guerre e três papagaios, que já bateram asas e foram se juntar aos outras aves, compondo o idílio silvestre e a “riqueza sem fim da caatinga”. Antes de alcançarem a liberdade, porém, as aves são marcadas com um fecho tipo presilha numerada na asa direita e anilhadas com numeração, ano de nascimento, a marca J1 (uma espécie de “ferro”) e o telefone da residência de José Juraci em Feira de Santana, onde ele vive. Tudo isso faz parte do seu programa particular de acompanhamento do crescimento e destino de aves.
O número de aves que ele já conseguiu salvar das mãos dos predadores humanos pode ser considerado pequeno, mas representa um significativo esforço e um exemplo em defesa do meio ambiente. “Como não vou parar, espero que dentro de alguns anoso semi-árido fique mais alegre e cheio de vida”, assinala José Juraci, com a mesma emoção da criança que ganha o seu primeiro brinquedo.” A caatinga contém uma pureza e beleza que só quem vive, sente. É necessário que a sociedade a preserve e a desfrute”, acrescenta. É o que ele está fazendo, não apenas com papagaios e periquitos, mas com todas as espécies que povoam a região. Na sua propriedade, animais antes considerados extintos podem ser encontrados, como emas, caititus, veados, jabutis, mocós, gado-do-mato, jacus, patos selvagens etc.
– O trabalho conservacionista destas espécies tornou-se um imperativo pelo fato de que ano a ano o número de exemplares na natureza vem diminuindo, apesar do trabalho de educação e conscientização da população – frisa José Juraci, ele próprio uma espécie de Dom Quixote da causa ecológica, que há mais de 10 anos tenta converter nativos à sua casa, a custo de muita pregação em bodegas e escolas da região. Em Queimadas e Santaluz, já conseguiu adeptos entusiasmados, que ele faz questão de citar um a um: Evaldo Oliveira, Eliane Lopes, Osvaldo Silva, Divandira Araújo, Barnabé Alves, além de seu filho José Emiliano. É com essa tropa de militantes e a ajuda da Superintendência do Ibama na Bahia, que faz dali refúgio de animais apreendidos em blitze, que a propriedade de José Juraci vai se tornando um pequeno paraíso da mundo animal.
UM “PAPAGAIÓFILO”
Por conta da observação das hábitos dos psitacídeos (nome cientifico da família dos papagaios e periquitos), José Juraci Pereira acabou se transformando num ornitólogo sem diploma, mas especializado em comportamento dessas aves. Fazendo anotações e catalogando dados, ele fez o seu próprio dossiê sobre papagaios e periquitos. Algumas das suas observações:
Os periquitos-guerre-guerre escolhem como local de postura cupinzeiros abandonados e constroem seus ninhos num processo que consiste numa escavação de baixo para cima até alcançar a parte superior, que é alargada, para obter espaço adequado para postura e incubação. Esse sentido de escavação tem por finalidade proteger sua prole de eventuais chuvas e de predadores. Com o ninho pronto, soltam penas, deixando apenas a parte inferior mais livre para expelir umidade, que é importante na alimentação dos filhos ainda dentro do ovo, como também para facilitar o nascimento. Esse periquito põe em média cinco ovos e a eclosão alcança 100%. A incubação dura mais ou menos 23 dias e os filhotes voam entre 30 e 45 dias. Um dado curioso no processo de reprodução foi observado quando chega o tempo dos filhotes voarem. Como local da postura fica na parte superiordo cupinzeiro, os filhotes não saem pelo corredor que vai até a parte inferior; eles esperam os pais fazerem a abertura na parte superior. Dos psitacídeos é o único que de fato constrói o seu ninho.
O papagaio-verdadeiro escolhe como local de postura ocos em grandes árvores como aroeira, pau-d’arco, baraúnas e barrigudas. O ninho fica a uma profundidade de até 2 metros. Põe em média três ovos e escolhe sempre o mesmo local para a postura. A incubação é feita tanto pelo macho quanto pela fêmea e a eclosão se dá em 24 dias; os filhotes voam com cerca de 45 dias. O papagaio é carente de proteção dos pais mesmo após estarem voando. Nas primeiras semanas, os filhotes voam sempre acompanhados dos pais. Segundo os nativos, os filhotes voam na quaresma, mas trata-se de uma crendice, pois há casos em que a postura se dá em abril e os filhotes voam no mês de junho. A exemplo do papagaio-verdadeiro, o periquito-cuiubinha tem praticamente os mesmos hábitos. A postura é em média de cinco ovos e a eclosão se dá com 21 dias; voam mais ou menos com 30 dias.
– Estas aves são monógamas, ou seja, não se separam. Alimentam-se dos frutos do imbuzeiro (é com i mesmo), da umburana, do ouricorizeiro, do mandacaru-de-boi, flores de pendões da flecha do sisal e do cipó-de-leite.
Jornal A Tarde – Caderno Rural
Bahia, 1º de junho de 1995 – Ano VII, nº 335, pags. 5 e 6
Texto: Jailton Batista
Artigo1
| ENXERGAR A RIQUEZA DA CAATINGA PARA PROMOVER A SUA PRESERVAÇÃO.
A Caatinga é um dos poucos ambientes semi-áridos da América do Sul e, no contexto do Brasil, onde noventa e seis por cento do território posssui climas úmidos e semi-úmidos, seu caráter excepcional lhe confere o título de único bioma exclusivo do país. Para o sertanejo (habitante da Caatinga), não são o calor e a seca que marcam sua vida, mas a chuva, que é ansiosamente aguardada, enquanto a maioria dos brasileiros esperam pelo calor do verão. A expressão “bom tempo”, usada por estes, soa como uma heresia para os sertanejos.Como em muitos ambientes do Brasil, na Caatinga alternam-se anualmente um período chuvoso (“inverno”) e um período seco (“verão”); este último é caracteristicamente longo, e o período chuvoso pode atrasar-se ou mesmo não chegar, em certos anos.
Ao longo da história do Brasil, pesquisas científicas pontuais e trabalhos de divulgação cheios de idéias preconcebidas sobre a natureza e a gente do famigerado Sertão Nordestino têm retratado a Caatinga como um ambiente homogêneo, pobre e pouco interessante para estudos ecológicos e para implantação de projetos de desenvolvimento sustentável. Daí decorreu o atraso nas pesquisas biológicas e nas ações de conservação ambiental para a região. Depois da Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Floresta de Araucária e Cerrado, que foram declarados centros de biodiversidade e patrimônios naturais da humanidade, é que se começa a enxergar a Caatinga. O pouco que já foi realizado neste ambiente já é o suficiente para esclarecer muitos pontos obscuros e derrubar preconceitos antigos. Aquele que pensa que a Caatinga é homogeneamente seca, pedregosa e cheia de plantas espinhentas pode desfazer facilmente tal impressão tendenciosa, percorrendo qualquer estrada do Nordeste que passe por esse ambiente. Há fisionomias florestais densas, arbustivas, campestres e rupestres, além de uma infinidade de matizes revelados nas áreas de transição e nos enclaves de outros biomas nas serras e brejos, por exemplo. A diversidade natural da Caatinga só começou a ser melhor conhecida recentemente, e pesquisas no campo da Ecologia, Zoologia, Botânica, Genética, Etnobiologia e Biotecnologia têm revelado uma inesperada riqueza e complexidade. Entre outras revelações, estão a descoberta de intrincadas interações ecológicas e de muitas espécies que são exclusivas da Caatinga (as espécies endêmicas). Embora esse bioma ainda seja mal conhecido, sabe-se que é mais diverso do que outro qualquer no mundo que esteja exposto a condições de clima e solo similares. Complementam a séria de mitos sobre a Caatinga as idéias preconceituosas sobre a pobreza humana de seus habitantes: homens e mulheres mal alimentados, mal formados, submetidos a estruturas sociais rígidas, e perfeitamente adaptados ao seu ambiente natural, que teria sido pouco alterado por eles ao longo da História. Apesar de tantas “fraquezas”, o sertanejo reproduz-se vigorosamente, fato que sempre foi usado para justificar campanhas de controle da natalidade e para caracterizar o Nordeste como região exportadora de gente. Chegou-se a pensar que a população remanescente, num futuro próximo, tenderia a viver num desolador vazio demográfico, em meio a caatingas inalteradas. Todas essas idéias incidiam sobre o ambiente semi-árido mais povoado do mundo e um dos mais degradados do Brasil ! A densidade de povoações e estradas na área da Caatinga é impressionante, formando uma vasta e complexa rede de cidades, e essa é uma das maiores riquezas desse bioma: gente. Gente que produz, que pensa e que tem idéias, o que é um dos maiores tesouros humanos. Essa riqueza humana, que ajudou a produzir uma paisagem rude e diversa, em meio a uma das mais vigorosas culturas populares, é que deve ser tomada como o principal componente a ser trabalhado, se quisermos conservar a biodiversidade e a beleza evocativa da Caatinga. Do lado da riqueza natural, os dados disponíveis sobre o Semi-árido são entusiasmantes. Os seguintes números aparecem na “Apresentação” da Ministra Marina Silva para a obra “Biodoversidade da Caatinga: Áreas e Ações prioritárias para a conservação” (publicação do Ministério do Meio Ambiente e outros, Brasília 2004): – 12 tipologias diferentes são reconhecidas para o bioma Caatinga. Até os peixes, essencialmente ligados à presença da água, são ricamente representados no Semi-árido; para o trecho do rio São Francisco em que ele atravessa a Caatinga, por exemplo, são registradas 116 espécies, em 70 gêneros. E tudo isso, num contexto de pouquíssimo estudo dessa biodiversidade; a tarefa que se coloca para os estudiosos, portanto, é gigantesca, mas promete ser altamente gratificante. Autores: Deodato Souza e Osmar Borges. |
Artigo4
Vegetação e Flora da Caatinga.
A cobertura vegetal natural é sem duvida o mais expressivo reflexo das condições mesológicas que no caso do semi-árido está representada pelo domínio das Caatingas. Apresenta-se, paradoxalmente, com uma diversidade fisionômica e florística porém formando em agrupamento dominado o domínio das caatingas.
São elas formações xerófilas, lenhosas, decíduas, comumente espinhosas com presença de plantas suculentas e estrato herbáceo estacional. As espécies que compõem sua diversidade em geral perdem suas folhas na época de estiagem ou seja apresentam o fenômeno da caducifolia. A produção de folhas e flores depende das chuvas. Como estas são distribuidas desigualmente na maior parte do tempo não existe um único período de floração. Algumas espécies da Caatinga como Tillandsia usneoides, T. Streptocarpa, T. recurvata e T. loliancea retiram água do ar úmido através de seus filamentos que se assemelham a cabelos. É difícil dizer qual a família mais importante da caatinga. As cactáceas imprimem uma fisionomia típica a certas áreas porém são ausentes em outras. Os mais freqüentes são os gêneros Cereus (mandacaru), Filoracereus (facheiro) opuntia (palma) e Melocactus (coroa de frade). As cactaceae e Euphobiaceae vivem muito bem em ambiente seco. Bautista (1986) apresentou uma listagem de plantas arboreas da caatinga onde apontou a presença de 34 famílias e 102 gêneros ocorrendo com 152 espécies, sendo 40% destas pertencentes a família Legumonosae. Dentre as espécies arboreas mais frequentes destacam-se Aroeira (A. urundeuva); Brauna (Schinopus brasiliensis): Umbu (Spondias tuberosa) da família Anacardiaceae; Araticumde-espinho (Annona spinescens); Embira (Guatteria sp); Bananinha (Rolliniopsis discreta) da família Ananaceae; Pereiro (Aspidosperma multiflorum) e Amargoso (Aspidosperma polyneurum) da família Apocynaceae; Pau-d’arco (Tabebuia impetiginosa); Craibeira (Tabebuia caraíba) da família Bignoniaceae; Cnidosculus phyllancanthus) Maniçoba (Manihot sp); Pau-de-leite (Sapuim argutun); Barriguda (Cavanillesia arborea); Imbiruçu (Pseodobombax suniplicifolum) da família Bombacaceae; Unha-de-vaca (Bauhinia heterandra); Catingueira (Caesalpinia bracteosa); São João (Cássia excelsa); Jabotá (Hymenea courbaril) da família leguminosa; Mulungú (Erythrina Velutina); Pau-sangue (Plerocarpus violaceus); Jurema-preta (Mimosa hostilis) e Sabiá (Minosa caesalpinifolia). Estas são algumas espécies e suas famílias que compõem a floristica da caatinga.
A caatinga não é homogenea, apresenta-se como formações diferenciadas, Contribui para isto tanto a sua composição florística como a densidade e o porte de suas plantas.
As subdivisões apresentadas por Luetzelburg (1923) Engle (1951) Veloso (1970) para identificar as diferentes associações foram: Caatinga arborea caracterizada pelo porte florestal com dois sub-tipos: arborea deusa e arborea aberta; caatinga arbustiva que se caracteriza pela uniformidade no seu estrato arbustivo a primeira é considerada uma unidade climax enquanto a segunda como unidade subclimax. A caatinga arbustiva apresenta espécies espinhosas caducas ora com muitas cactaceas ora com marcante presença de bromeliaceas.
Há ainda tipos com a conjugação dos dois anteriores sendo denominadas de caatinga arbustiva-arborea ou arborea-arbustiva conforme predomine num porte ou outro.
Finalmente em afloramento rochoso a caatinga apresenta outra fisionomia: é o campo rupestre. Em sua composição floristica predominam as Bromeliaceas e cactáceas e uma elevada presença de musgos e liquens.
Adaptações às Condições de Aridez
Ao observa-se a distribuição dos seres vivos na biosfera verifica-se que a proteção contra ao fenômeno de aridez, aparece como modificações na estrutura morfofisiológica. Portanto é comum encontra-se nas Caatingas plantas que têm a faculdade de armazenar água como reserva. Um exemplo pode ser dado pelas cactaceas que sobrevivem às condições de escassez de água suportando inclusive intensa irradiação solar e temperaturas elevadas. Seu alto grau de diferenciação empresta-lhes feições bem particulares, que congrega dois tipos de cactaceas com características das mais exóticas. Graças a estas estruturas adaptativas os cactos são capazes de consumir e perder uma quantidade mínima de água armazenada. Ao contrário do que ocorre nas outras planas os cactos fecham seus estomatos durante o dia quando a evaporação aumenta muito e abrem no período da noite quando há diminuição da evaporação e aumento da umidade. O Dr. Rizini Toledo, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro em seu artigo sobre Cactaceas aponta as principais adaptações apresentadas. São elas:
a) formas globoides e elipsóides;
b) ausência de folhas ou seja apresentam afilia;
c) cuticulas espessas, revestimento de cera, variadas coberturas de pêlos e baixa densidade de estômatos; todas estas contribuindo para dificultar a transpiração;
d) presença de tecidos de substancias que favorecem a retenção de água como mucilagem;
e) sistemas radiculares extensos e superficiais, formação rápida de raízes absorventes nas épocas de chuva, como absorção imediata de água atmosférica pelos espinhos. Todas estas estruturas voltadas para a pronta absorção de água. Plantas fanerógamas como o umbuzeiro (Spondias tuberosa) cujo fruto é muito apreciado, armazena água em suas raízes, a qual é usada pelos vaqueiros para matar a sede quando estão campeando na Caatinga. A barriguda (Bombax cavanillesia) apresenta enorme espessamento do tronco pelo acumulo de água. É um caso de suculência muito especial comum à família das Bombacáceas e à algumas palmeiras do Nordeste. Um fenômeno interessante foi detectado pelo professor Andrade Lima na microrregião dos Cariris Velhos e apresentado pelo Pereiro (Aspidosperma multiflorum) planta bastante freqüente naquela região, cujas flores de cor branca exalam um odor muito agradável. Esta planta inicia uma ramificação bem próxima ao solo formando uma circunferência. Os ramos e as folhas cobrem uma área em volta da planta mantendo um microclima necessário ao seu desenvolvimento. Quanto a planta atinge a uma determinada altura estes ramos caem desaparecendo. Este é um exemplo que envolve a interação entre o solo e o processo de crescimento. Professor Dardano chamou os pereiros neste estágio de pereiros-de-saia.
Finalmente um mecanismo quase generalizado nas plantas da Caatinga e a caducifolia ou seja a capacidade que as plantas têm de perder suas folhas para diminuir o metabolismo e sobreviver em período de estiagem.
Fonte:
Jornal Universidade Aberta do Nordeste – Caderno Ecologia
Realização: Fundação Demócrito Rocha
Ceará, Edição nº12, pags. 3,4,5
Texto: Profa. Maria José de Araújo Lima e Profa. Marília Lopes Brandão
Artigo6
CARACTERÍSTICAS DA CAATINGA.
A Caatinga
A Caatinga está localizada na região nordeste de Brasil. O nome “Caatinga” é uma palavra de origem Tupi (indígena) que significa “floresta” branca ou “vegetação” branca (kaa = floresta, vegetação, tínga = branco) e cobre aproximadamente 734.478 km2 (Biodiversidade da Caatinga, áreas e ações prioritárias para a conservação. Organizadores José Maria Cardoso da Silva e outros. Brasília, 2004 – MMA etc). Isso equivale a 8,64 % do território nacional. A Caatinga possui um clima semi-árido com temperatura média anual de 28 °C. Esta região possui um inverno muito quente e seco e um verão quente e chuvoso. Os rios da Caatinga só correm durante os verões chuvosos e em alguns lugares os fluxos são interrompidos durante os invernos secos. A vegetação consiste principalmente em arbustos abertos que são resistentes à seca.
Localização
A Caatinga cobre a porção nordeste de Brasil. Está localizada entre as coordenadas 3°S 45°W e 17°S 35°W e está presente em oito estados brasileiros perto da costa oriental banhada pelo Oceano Atlântico: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Clima
A Caatinga possui duas estações distinguíveis. Estas são: o inverno, quando está muito quente e seco, e o verão quando está quente e chuvoso. Durante o período de inverno seco não existe folhagem ou vegetação rasteira. A vegetação fica muito seca e as raízes começam a migrar para a superfície da terra pedregosa. Elas fazem isto para absorver a água antes de evaporar. Todas as folhas caem das árvores para reduzir a transpiração, a fim de minorar a quantidade de água perdida na estação seca. Durante os períodos de pico da seca, os solos da Caatinga podem alcançar temperaturas de até 60 °C. Com toda a folhagem e vegetação rasteira mortas durante os períodos de seca, todas as árvores que possuem folhas ganham tom acinzentado. A seca termina ao final do ano e começa a chover pelo ano novo. Com a vinda das chuvas, o tom cinzento da paisagem começa a se transformar, dando lugar a uma terra verde e bonita. As pequenas plantas começam a crescer na terra úmida e nas árvores aparecem as folhas verdes novamente. Neste momento as águas nos rios começam a subir e os fluxos começam a fluir novamente. As partes dos rios que estavam secas, agora tem água corrente novamente.
População Humana
A população local usa muitas espécies de plantas da região de Caatinga. Palmas são vegetais muito importantes para a economia da região. Servem para alimentação das criações animais e em alguns casos até para alimentação humana. Pessoas desta área dependem em muito de algumas plantas. Extração do babassu, carnaúba, tucúm e macaúba dos quais óleos são produzidos. Muitas árvores também são usadas para madeira nesta área, incluindo as espécies: Anadenanthera macrocarpa; Ziziphus joazeiro; Amburana cearensis; Astronium fraxinifolium; Astronium urundeuva; Tabebuia impetiginosa; Tabebuia caraíba; Schinopsis brasiliensis; Cedrela odorata; Dalbergia variabilis; Didymopanax morototoni e Pithecellobium polycephalum. Algumas plantas também são muito utilizadas para propósitos médicos, através de chás, infusões, etc. A população mais pobre do Brasil vive na região nordeste que também é a região mais densamente povoada do país. Mais de 60 milhões de pessoas sobrevivem da escassa vegetação da Caatinga. Uma parte muito grande desta população depende da agricultura que é praticamente a única fonte de renda.
Agricultura
Em alguns lugares, a Caatinga possui terras muito férteis. Os habitantes plantam frutas nestas terras, processam, comem, vendem e exportam. Algumas regiões estão sendo irrigadas, notadamente a do Rio São Francisco. Esta é uma notícia muito boa para agricultores e pecuaristas, embora a salinização da terra está se tornando uma ameaça, em virtude da terra está sendo irrigada com água contendo alto índice de salinidade. A região do Rio São Francisco está exportando uva, manga, mamão, melão, etc. e se tornando cada vez mais um real competidor na exportação mundial. A utilização indiscriminada dos recursos da região, tem causado alguns aspectos negativos. Agricultura intensiva, junto com o pastar excessivo do gado e cabras estão afetando a estrutura populacional de algumas espécies vegetais e animais da região. Desflorestamento para usos industriais como combustível e carvão destróem a vegetação. A combinação de seca e abuso da terra está se tornando a principal ameaça. Se estas práticas continuarem crescendo como estão, a desertificação é bem provável.
Vegetação
O Caatinga pode ser separada através de tipos de vegetação em oito áreas diferentes:
1- A floresta de Caatinga;
2- O pálio de floresta;
3- Área arborescente;
4- Caatinga fechada ;
5- Caatinga aberta ;
6- Arbusto de Caatinga fechada;
7- Savana de Caatinga, com algumas árvores e arbustos;
8- Savana de Caatinga rochosa, com menos de 10% de cobertura de arbustos.
Fonte: Wikipedia Free Encyclopedia
Tradução: José Angelo Leite Pinto
Artigo7
| Amphisbaenia: répteis fossoriais de vida subterrânea.
Universidade Estadual de Feira de Santana
A subordem Amphisbaenia é relativamente pouco estudada, sendo conhecidas aproximadamente 160 espécies, amplamente distribuídas ao longo da América do Sul e da África tropical. No Brasil o grupo é bem representado, ocorrendo no estado da Bahia três gêneros: Amphisbaena, Cercolophia e Leposternon. Considerado, ora como serpentes ora como lagartos, este pequeno grupo de répteis de hábitos estritamente fossoriais teve a sua classificação revista por diversos autores, tendo sido definido em uma categoria à parte e reconhecida no meio científico como subordem Amphisbaenia. Contudo, as relações de parentesco entre esses grupos ainda hoje não estão bem estabelecidas. Popularmente conhecidas como cobras-de-duas-cabeças, os anfisbênios apresentam corpo cilíndrico, alongado e com diâmetro uniforme, desprovidos de membros locomotores, exceto algumas espécies do gênero Bipes que ocorrem no México e apresentam patas anteriores bem desenvolvidas, que servem apenas para penetração no solo. São animais especializados para a vida subterrânea, onde vivem em galerias que escavam utilizando o próprio corpo e a cabeça como ferramenta, movendo-se sob o solo para frente e para trás com a mesma habilidade, reforçando a idéia de não ter sido somente o aspecto serpentiforme externo que deu origem à lendária presença de duas cabeças nesses animais. O nome Amphisbaenia deriva-se das raízes gregas amphi [duplo] e baen [caminhar], referindo-se a esta capacidade peculiar de locomoção. Para atender a movimentação debaixo da terra, os anfisbênios sofreram modificações anatômicas internas e externas principalmente na cabeça, originando formas especializadas e não especializadas relacionadas ao modo de escavação: algumas espécies apresentam cabeça rombuda (arredondada), vivendo em solos mais superficiais, outras apresentam focinho quilhado verticalmente e as demais possuem o focinho em forma de pá horizontal, sendo encontradas em solos mais compactados e profundos. A presença de um crânio bastante rígido e sujeito a impactos constantes é também especialização adaptada aos hábitos de escavação dos anfisbênios. A primeira vista, embora a cabeça e a cauda se confundam, em uma observação mais apurada desses animais as extremidades podem ser prontamente distinguidas, afastando-se a idéia de que esses répteis seriam serpentes perigosas bicéfalas e, como tais, apresentariam duas bocas, uma na cabeça e outra na cauda, podendo morder com ambas. Esta crença faz com que muitos desses animais encontrados na superfície do solo em virtude do alagamento de suas galerias em épocas chuvosas, sejam capturados e mortos, acarretando prejuízo para a diversidade biológica. Entretanto, é sabido que as cobras-de-duas-cabeças são predadoras capazes de dominar diversos animais invertebrados e pequenos vertebrados, e como possuem fortes mandíbulas associadas a um conjunto dentário especializado, elas agarram com firmeza suas presas, podendo arrancar pedaços se o animal for grande demais para ser engolido. Normalmente, os anfisbênios se alimentam de minhocas (Annelida), cupins (Isoptera), larvas de tenébrios (Coleoptera) e, em condições de cativeiro, comem neonatos de camundongos (Mus musculus). O Laboratório de Morfologia Comparada de Vertebrados-LAMVER da Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS, desenvolve diversas pesquisas com os anfisbênios, principalmente na área morfológica. Este pequeno grupo de répteis ainda permanece com diversos aspectos da sua biologia desconhecidos em virtude de seus hábitos fossoriais que dificultam as observações e coletas, havendo, portanto, necessidade de estudos mais abrangentes sobre sua importância ecológica e seu modo de vida, de forma que as informações geradas e divulgadas para a população possam eliminar a crença de que os anfisbênios causam danos à saúde humana e desta forma contribuir para preservação do grupo. Para saber mais sobre os anfisbênios, foi elaborada uma cartilha, disponível para download no endereço à seguir: www.uefs.br/download/zoo/cartilha.pdf Profª. Dra. Maria Celeste Costa Valverde Leitura recomendada: NAVEGA-GONÇALVES, M.E.C. Revista Ciência Hoje, vol. 34, nº. 204 maio de 2004. VANZOLINI, P. E. An aid to identification of the South American species of Amphisbaena (Squamata, Amphisbenidae) Papéis Avul. Zool., S. Paulo, 42:351-362, 2002. |
Artigo-8
Cartilha “Nem cobra, nem duas cabeças: Quem eu sou?”
Universidade Estadual de Feira de Santana
Departamento de Ciências Biológicas
Laboratório de Morfologia Comparada de Vertebrados (LAMVER).
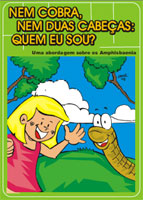 Esta cartilha faz parte de um projeto de expansão do conhecimento sobre os Amphisbaenia no estado da Bahia. Popularmente conhecidos como cobras-de-duas-cabeças e interpretadas de forma errônea, este pequeno grupo de répteis, cujas extremidades são distinguidas em cabeça e cauda, vem sofrendo ameaças pela população em virtude destas lendárias inverdades a seu respeito. O que pretendemos com este trabalho é fornecer informações sobre a vida dos anfisbênios, como e onde vivem e o que devemos fazer para preservá-los, uma vez que eles não causam dano a vida do homem.
Esta cartilha faz parte de um projeto de expansão do conhecimento sobre os Amphisbaenia no estado da Bahia. Popularmente conhecidos como cobras-de-duas-cabeças e interpretadas de forma errônea, este pequeno grupo de répteis, cujas extremidades são distinguidas em cabeça e cauda, vem sofrendo ameaças pela população em virtude destas lendárias inverdades a seu respeito. O que pretendemos com este trabalho é fornecer informações sobre a vida dos anfisbênios, como e onde vivem e o que devemos fazer para preservá-los, uma vez que eles não causam dano a vida do homem.
 Desde 1995 venho dedicando-me ao estudo e à pesquisa sobre estes répteis de vida estritamente subterrânea, atuando principalmente na área morfológica junto a outros educadores e pesquisadores. Neste novo trabalho somo esforços com um jovem estudante desenhista, que desde cedo vem se dedicando à criação e ilustração de histórias em quadrinhos, suas obras preferidas.
Desde 1995 venho dedicando-me ao estudo e à pesquisa sobre estes répteis de vida estritamente subterrânea, atuando principalmente na área morfológica junto a outros educadores e pesquisadores. Neste novo trabalho somo esforços com um jovem estudante desenhista, que desde cedo vem se dedicando à criação e ilustração de histórias em quadrinhos, suas obras preferidas.
A minha experiência na área zoológica associada à habilidade artística de Daniel Ferreira, fazem desta cartilha uma boa proposta de aprendizagem dirigida a todos, mas que particularmente, irá beneficiar nas escolas, professores e alunos que servirão de multiplicadores das informações aqui contidas, repassando-as para toda a comunidade. A falta de conhecimento da população sobre a vida animal vem acarretando nos últimos anos, prejuízos irreversíveis à natureza comprometendo assim a diversidade biológica na Terra.
Necessitamos urgentemente mudar esta conduta, e para minimizar o problema convidamos você, leitor, a criar uma nova cultura de conservação, começando pela proteção das espécies de anfisbênios que ocorrem no nosso estado. Acreditamos que uma iniciativa como esta só poderá dar certo se atuarmos conjuntamente na sociedade de forma rápida e eficaz, aqui e agora, face a velocidade com que a destruição vem acontecendo em todo planeta. Agindo assim é provável que um dia as gerações futuras possam agradecer, quiçá, sentir orgulho do “ bicho- homem”.
Os Autores:

Maria Celeste Costa Valverde, nascida em Feira de Santana-BA, em 1954, é Licenciada em Ciências Biológicas (1977), Mestre (1998) e Doutora (2002) em Biologia Animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Desde 1982 é professora U n i v e r s i t á r i a, lotada no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana, exercendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. Coordena o Laboratório de Morfologia Comparada de Vertebrados-LAMVER-UEFS. E-mail: cverde@uefs.br.

Daniel de Jesus Ferreira, nascido em Feira de Santana – BA, em 1985, é graduando do curso de Licenciatura em Letras com Língua Inglesa. É desenhista e pesquisador Bolsista/Fapesb do Núcleo de Desenho e Artes do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana. Há mais de cinco anos atua na criação de histórias em quadrinhos (Hq), área artística pela qual tem maior admiração. E-mail: Danieldejesusferreira@yahoo.com.br.
Para acessar a Cartilha em formato PDF ou fazer o download, clique no link a seguir http://www.uefs.br/download/zoo/cartilha.pdf.
Artigo-9
Áreas de Soltura e Monitoramento de Animais Silvestres para o Estado da Bahia.
Por Aline Borges do Carmo – Bióloga
Analista Ambiental CETAS Chico Mendes/IBAMA
Mestranda em Ecologia e Biomonitoramento- UFBA.
Histórico:
O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilícita do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. O Brasil ocupa um lugar importante neste contexto devido, entre outros motivos, à enorme biodiversidade de nosso país, aos graves problemas sociais existentes e a uma legislação extremamente branda relacionada a este assunto. Assim, a cada ano, são retirados de nossos biomas 38 milhões de animais, sendo que de cada 10 animais capturados, apenas 1 chega vivo ao consumidor final.
As conseqüências deste quadro, para a natureza, são preocupantes. A sobrexploração é a segunda maior causa de extinção das espécies, ficando atrás somente da diminuição de habitats naturais. A depressão endogâmica, a perda da flexibilidade evolucionária, a depressão exogâmica, entre outras causas, acabam levando as espécies ao chamado “vórtice de extinção”, em uma situação difícil de se reverter. Esta situação complica-se ainda mais em espécies de ocorrência limitada ou endêmica, espécies que necessitam de grandes áreas, aquelas que não são dispersoras eficazes e as que requerem nichos especiais
Animais da fauna silvestre apreendidos pelas autoridades competentes são, usualmente, encaminhados a Centros de Triagem, locais responsáveis pela recepção, triagem, tratamento, reabilitação e adequada destinação destes animais.
O estado da Bahia é um grande fornecedor de animais silvestres, seja para o consumo local, como “xerimbabos” (devido a arraigados hábitos ditos “culturais”) como para o tráfico nacional e internacional. Este estado possui, atualmente, apenas dois Centros de Triagem de Animais Silvestres em funcionamento, sendo um localizado no município de Vitória da Conquista, atendendo às regiões sul e sudoeste e o CETAS Chico Mendes, localizado em Salvador, e que recebe animais de toda a região norte e nordeste da Bahia desde o final do ano de 2003.
Em um painel apresentado no VII Congresso de Animais Silvestres e Exóticos, realizado em setembro de 2006 no município de Ilhéus/BA, foram avaliados os dados obtidos em dois anos de atividades do CETAS Chico Mendes – IBAMA/BA dos Animais Silvestres oriundos do comércio ilegal na Bahia (apreensões e entregas espontâneas). Não foram levados em conta, neste trabalho, animais provenientes de resgate em áreas urbanas.
Entre os 2800 animais de origem ilegal, as aves foram mais freqüentes (80,4%), principalmente pássaros canoros adultos e machos e filhotes de papagaios. Entre os répteis (15,4%), destacaram-se filhotes de jabutis-piranga, cuja função, acredita-se que seja servir como presente para crianças, por conta do seu deslocamento lento e tolerância à manipulação. Entre mamíferos (4,2%), foram mais freqüentes os primatas e felinos, para fins de criação como pets, e os cinegéticos, como a cutia e o tatu, para consumo alimentar.
Segundo relatório anual referente ao ano de 2006, ainda no prelo, foram recebidos naquele ano 2661 animais, provenientes de apreensões, resgates e entregas espontâneas, sendo destes 1661 aves, 811 répteis e 189 mamíferos, ilustrando a atual realidade do CETAS Chico Mendes.
A destinação destes animais deve ser, segundo o Decreto nº 3179/99 , artigo 2º, § 6:
II – os animais apreendidos terão a seguinte destinação:
a) libertados em seu habitat natural, após verificação da sua adaptação às condições de vida silvestre:
b) entregues a jardins zoológicos, fundações ambientalistas ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados; ou
c) na impossibilidade de atendimento imediato das condições previstas nas alíneas anteriores, órgão ambiental autuante poderá confiar os animais a fiel depositário na forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, até implementação dos termos antes mencionados.
Considera-se, portanto, o retorno à natureza, apesar do processo às vezes complexo, com os devidos cuidados, possível e desejável. Iniciativas neste aspecto, apesar de ainda incipientes, estão crescendo em todo o Brasil, com resultados animadores. A Superintendência do IBAMA/SP realizou, no ano de 2006, o I Encontro Nacional de Áreas de Soltura e Monitoramento, mostrando os resultados preliminares de três anos de trabalho, procurando encontrar um meio termo aceitável entre as exigentes recomendações da IUCN e a realidade enfrentada pelas Unidades do IBAMA. Este trabalho, fruto de parcerias entre o IBAMA, Universidades e Empresários, culminou no estabelecimento de 09 áreas de Soltura e Monitoramento, sendo que centenas de animais já foram devolvidos criteriosamente à natureza graças a esta iniciativa.
O IBAMA- Superintendência Estadual da Bahia- pretende, desta forma, elaborar projetos de soltura criteriosa, sendo que, para isso, torna-se essencial primeiramente estabelecer contatos com proprietários interessados de cadastrar suas propriedades como ASM- Áreas de Soltura e Monitoramento.
Justificativa:
A destinação preferencial para animais recebidos em Centros de Triagem, conforme verificado no item anterior, é a devolução ao seu habitat natural, popularmente conhecida como “soltura”. A soltura sem critérios, ainda amplamente realizada por vários órgãos ambientais e Polícia Florestal, traz sérios riscos ao ecossistema, similares àqueles trazidos pela introdução de espécies exóticas.
Entretanto, dados da RENCTAS mostram que, ainda hoje, 78% dos animais apreendidos no Brasil são soltos sem os maiores cuidados, na maioria das vezes. Centros de Triagem estão cada vez mais lotados de animais provenientes de apreensões, resgates e entregas espontâneas, recorrendo, muitas vezes, a solturas sem posterior monitoramento, seja por falta de verbas ou de pessoal.
Como objetivos das solturas e cadastramento de áreas de soltura, podemos listar:
1) Recolocação de espécimes e estabelecimento de populações na natureza;
2) Retorno de processos ecológicos(polinização, dispersão, herbivoria, polinização, etc);
3) Geração de experiências, informações e conhecimento;
4) Estabelecimento de parcerias, integração de órgãos governamentais e privados;
5) Incentivo à pesquisa com fauna e flora (levantamentos, monitoramentos, enriquecimento florístico, etc);
6) Incentivo à sensibilização da população e à proteção de áreas verdes.
A criação de áreas de soltura é, portanto, uma poderosa ferramenta para a realização de solturas criteriosas, utilizando-se a técnica de soft-release, cuidados pré e pós soltura e posterior monitoramento. A contribuição desta ação não se restringe somente à fauna silvestre, mas abrange a conservação em um aspecto mais global, seja pelo fomento a pesquisas, proteção de áreas verdes ou educação ambiental.
Proposição:
Atualmente, há no CETAS Salvador cerca de 400 passeriformes provenientes de apreensões e que estão ainda em estado asselvajado. Os animais provenientes das últimas apreensões já foram marcados com anilhas abertas com lacre, fornecidas pela COEFA/IBAMA/DF, conforme relação em anexo, e estão em período de quarentena. A grande maioria destes animais é proveniente do bioma Caatinga, na parte norte do estado, segundo o professor Caio Graco, ornitólogo da UEFS (Universidade Federal de Feira de Santana).
Assim sendo, a devolução destes animais deverá ocorrer em uma área do sertão, preferencialmente na região norte do Estado da Bahia. Dentre os possíveis locais para envio destas aves, há duas opções mais imediatas. A primeira opção seria o município de Queimadas, onde existe a Fazenda do Sr. Juracy, que já se mostrou interessado e disposto em ajudar ações de soltura em sua área. É uma área grande, cercada por terrenos pertencentes à própria família do interessado, onde a entrada de pessoas estranhas é vetada. Já foi realizado um levantamento da fauna da área pela equipe do CETAS/NUFAU e a ocorrência das espécies que se pretende soltar foi ainda confirmada pelo professor Caio Graco.
Além disso, funcionários da Fazenda, além de serem sensibilizados a não coletar animais silvestres, ainda ajudam colocando alimentação e fazendo monitoramento, conforme foi verificado em uma soltura de pássaros-pretos, realizada há cerca de 01 ano, em que tais funcionários relataram inúmeros casos de reprodução e confecção de ninhos.
Uma segunda opção seria a área dos índios Pankararés, próxima a Paulo Afonso, onde existe um projeto em parceria com a Universidade e também um Escritório Regional do IBAMA, que poderia oferecer apoio.
A soltura seria realizada em esquema soft release, após aclimatação dos animais em gaiolões na área escolhida, com monitoramento intensivo na primeira semana. Após este período, os monitoramentos deverão ocorrer durante seis dias após um mês, três meses, seis meses, nove meses e um ano. A equipe deverá contar com, pelo menos, um servidor do IBAMA, funcionários da Fazenda e voluntários da Universidade, com supervisão do professor Caio Graco.
Após esta ação mais emergencial, os resultados deverão ser compilados e apresentados em um grande seminário aberto ao público, para o qual os grandes empresários e donos de terras do estado da Bahia seriam chamados e incentivados a cadastrar suas próprias áreas. Não é necessário esperar todo o período de monitoramento após esta primeira soltura; as ações de soltura, monitoramento e a iniciativa da realização do Seminário podem ocorrer concomitantemente. Desta forma, como fruto deste seminário, já sairia um cadastro de novas Áreas de Soltura e Monitoramento e outras possíveis parcerias em tais ações, para todo o estado da Bahia.
Ações:
· Contato com professor Caio Graco, da UESC (já realizado);
· Contato com Sr. Juracy e Índios Pankararés;
· Contato com EsReg Paulo Afonso;
· Contato com financiadores, a fim de providenciar: combustível, passagens (para os estudantes), alimentação, redes de neblina, binóculos e material para a confecção de gaiolões. Algumas anilhas já foram adquiridas pela COEFA e outras já foram compradas pela Fazenda Caraíbas, restando apenas o pedido de doação das mesmas;
· Ida ao local para construção dos gaiolões, novo levantamento da avifauna da área e ações preliminares de Educação Ambiental com a comunidade (01 semana em campo);
· Agendamento da soltura;
· Soltura com monitoramento de seis dias. Pode ser chamada imprensa local para registrar a ação;
· Monitoramentos posteriores (01 mês, 03 meses, 06 meses, 09 meses e 01 ano);
· Relatório final;
· Convite ao grande público, empresários, fazendeiros, universidades e mídia para um Seminário;
· Apresentação dos resultados preliminares em um Seminário aberto ao público;
· Cadastramento de novas Áreas de Soltura em todo o Estado.
Artigo-10
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Superintendência Estadual do IBAMA – Bahia

CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES CHICO MENDES.
| Nº | Número | Diâmetro (mm) | Nome Científico | Nome Comum | Sexo | Obs: |
| 01 | 000101 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 02 | 000102 | 3,5 | Turdus rufiventris | Sabiá-laranjeira | Indet. | … |
| 03 | 000103 | 3,5 | Chrysomus ruficapillus | Chapéu-de-couro | Macho | … |
| 04 | 000104 | 3,5 | Saltato similis | Estevão | Indet. | … |
| 05 | 000105 | 3,5 | Turdus leucomelas | Sabiá | Indet. | … |
| 06 | 000106 | 3,5 | Turdus amaurochalinus | Sabiá-bico-de-osso | Indet. | … |
| 07 | 000107 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 08 | 000108 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 09 | 000109 | 3,5 | Saltator similis | Estevão | Indet. | … |
| 10 | 000110 | 3,5 | Turdus funigatus | Sabiá verdadeiro | Indet. | … |
| 11 | 000111 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 12 | 000112 | 3,5 | Turdus rufiventris | Sabiá-laranjeira | Indet. | … |
| 13 | 000113 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 14 | 000114 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 15 | 000115 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 16 | 000116 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 17 | 000117 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 18 | 000118 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 19 | 000119 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 20 | 000120 | 3,5 | Chrysomus ruficapillus | Chapéu-de-couro | Macho | … |
| 21 | 000121 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 22 | 000122 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 23 | 000123 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 24 | 000124 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 25 | 000125 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 26 | 000126 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 27 | 000127 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 28 | 000128 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 29 | 000129 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 30 | 000130 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 31 | 000131 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 32 | 000132 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 33 | 000133 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 34 | 000134 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 35 | 000135 | 3,5 | Paroaria dominicana | Galo-da-campina | Indet. | … |
| 36 | 000136 | 3,5 | Chrysomus ruficapillus | Chapéu-de-couro | Macho | … |
| 37 | 000141 | 3,5 | Pitangus sulphuratus | Bem-te-vi | Indet. | … |
| 38 | 000251 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 39 | 000252 | 2,6 | Sporophilla bouvreiul | Caboclinho | Macho | … |
| 40 | 000253 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 41 | 000254 | 2,6 | Euphonia violacia | Guriatá | Macho | … |
| 42 | 000255 | 2,6 | Sporophilla leucoptera | Chorão | Macho | … |
| 43 | 000256 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Indet. | … |
| 44 | 000257 | 2,6 | Carduelis magellanica | Pintasilgo | Macho | … |
| 45 | 000258 | 2,6 | Sporophilla leucoptera | Chorão | Macho | … |
| 46 | 000259 | 2,6 | Carduelis yarrelii | Pintasilgo baianinho | Macho | … |
| 47 | 000260 | 2,6 | Sporophilla leucoptera | Chorão | Indet. | … |
| 48 | 000261 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 49 | 000262 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 50 | 000263 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 51 | 000264 | 2,6 | Sporophila caerulensis | Papa-capim-cruz peito branco | Macho | … |
| 52 | 000265 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 53 | 000266 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 54 | 000267 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 55 | 000268 | 2,6 | Sporophila caerulensis | Papa-capim-cruz peito amarelo | Macho | … |
| 56 | 000269 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 57 | 000270 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | óbito |
| 58 | 000271 | 2,6 | Sporophilla ardesiaca | Papa-capim de peito branco | Macho | … |
| 59 | 000272 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 60 | 000273 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 61 | 000274 | 2,6 | Sporophilla bouvreiul | Caboclinho | Macho | … |
| 62 | 000275 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 63 | 000276 | 2,6 | Sporophilla leucoptera | Chorão | Macho | … |
| 64 | 000277 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | óbito |
| 65 | 000278 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 66 | 000279 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 67 | 000280 | 2,6 | Sporophilla bouvreiul | Caboclinho | Macho | … |
| 68 | 000281 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 69 | 000282 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 70 | 000283 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | … |
| 71 | 000284 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | … |
| 72 | 000285 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 73 | 000286 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 74 | 000287 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Fêmea | … |
| 75 | 000288 | 2,6 | Sicalis luteola | Ferreirinha | Indet. | … |
| 76 | 000289 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 77 | 000290 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | … |
| 78 | 000291 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 79 | 000292 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 80 | 000293 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 81 | 000294 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 82 | 000295 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 83 | 000296 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 84 | 000297 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Fêmea | … |
| 85 | 000298 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 86 | 000299 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 87 | 000300 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 88 | 000301 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 89 | 000302 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Fêmea | … |
| 90 | 000303 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 91 | 000304 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | óbito |
| 92 | 000305 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 93 | 000306 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 94 | 000307 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Macho | … |
| 95 | 000308 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 96 | 000309 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 97 | 000310 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 98 | 000311 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 99 | 000312 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 100 | 000313 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 101 | 000314 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 102 | 000315 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 103 | 000317 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Indet. | … |
| 104 | 000318 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Indet. | … |
| 105 | 000319 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 106 | 000320 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 107 | 000321 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 108 | 000322 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Macho | … |
| 109 | 000323 | 2,6 | Zonotrichia capensis | Tico-tico | Indet. | … |
| 120 | 000324 | 2,6 | Sporophilla bouvreiul | Caboclinho | Macho | … |
| 121 | 000325 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 122 | 000326 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 123 | 000327 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 124 | 000328 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 125 | 000329 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 126 | 000330 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Indet. | … |
| 127 | 000331 | 2,6 | Sicalis luteola | Ferreirinha | Indet. | … |
| 128 | 000332 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 128 | 000333 | 2,6 | Sporophilla ardesiaca | Papa-capim de peito branco | Macho | … |
| 129 | 000334 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 130 | 000335 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 131 | 000337 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Indet. | … |
| 132 | 000338 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Fêmea | … |
| 133 | 000339 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
| 134 | 000340 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 135 | 000341 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Macho | … |
| 136 | 000342 | 2,6 | Zonotrichia capensis | Tico-tico | Indet. | M.I.E. quebrado |
| 137 | 000343 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 138 | 000344 | 2,6 | Sporophilla angolensis | Curió | Fêmea | … |
| 139 | 000345 | 2,6 | Cyanocompsa brissonii | Azulão | Macho | … |
| 140 | 000346 | 2,6 | Sporophilla nigricollis | Papa-capim | Macho | … |
| 141 | 000347 | 2,6 | Sicalis luteola | Ferreirinha | Indet. | … |
| 142 | 000348 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Macho | … |
| 143 | 000349 | 2,6 | Sporophilla albogularis | Brejal | Macho | … |
| 144 | 000350 | 2,6 | Sicalis flaveola | Canário-da-terra | Indet. | … |
Observações:
– A anilha de diâmetro 3,5mm ficou apertada em Pássaro-preto (Gnorimopsar chopi).
– Anilha 000316 (2,6mm) foi inutilizada (arranhada).
– Anilha 000336 (2,6mm) foi inutilizada (amassada).
| Nº | Número | Diâmetro (mm) | Nome científico | Nome comum | Sexo | Observação |
| 01 | 000137 | 3,5 | Saltator similis | Estêvão | Indet. | … |
| 02 | 000138 | 3,5 | Saltator similis | Estêvão | Indet. | … |
| 03 | 000139 | 3,5 | Saltator similis | Estêvão | Indet. | … |
| 04 | 000140 | 3,5 | Saltator similis | Estêvão | Indet. | … |
| Nº | Número | Diâmetro (mm) | Nome científico | Nome comum | Sexo | Observação |
| 01 | 000351 | 2,6 | Euphonia violacea | Guriatá | Macho | … |
| 02 | 000352 | 2,6 | Euphonia violacea | Guriatá | Macho | … |
